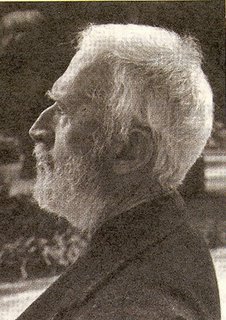Mário, meu amigo
Soube hoje, por carta, que tinhas cessado as tuas funções no Centro Hospitalar das Caldas da Rainha. A carta que tal notícia me trouxe, solicitava-me, caso eu aceitasse tal incumbência, um depoimento sobre aspectos que eu entendesse relevantes na tua personalidade e acção. Que aceitei a incumbência é um facto confirmado. Que saiba e consiga fazer um depoimento isento sobre o meu amigo e colega de lides cirúrgicas, é coisa que só se verá no fim. Personalidade, acção, foram os limites que me colocaram. Pode limitar-se a isto a opinião que temos de um amigo? Poderei eu aceitar limites, rebelde que sempre fui a aceitá-los? E, pior do que isto, um outro limite me impuseram, o de não ultrapassar uma página A4. Como é que eu vou conseguir meter-te numa simples página, logo a ti que davas para personagem principal de um romance de caval(h)eiros, para tema de um ensaio sobre a rectidão, a lhaneza, a amizade, a verticalidade, a honra e o dever?
De duas, uma. Ou não utilizo sequer a página que me autorizam e me limito a dizer que tu és um exemplo a seguir, mesmo pelos da nossa geração, quando ainda havia valores e palavra, ou faço um esforço, por certo inglório, de tentar dizer mais alguma coisa para além desta síntese. Tenho que optar por esta segunda hipótese, porque sempre me incomodou o branco das páginas e o vazio que representam.
Mário, meu amigo. Não é para ti que escrevo, mas para quem me leia, se alguém me ler. E desses, sobretudo para os jovens, para aqueles que nasceram em tempo de mudança, em que se confundiram os valores e em que se elegeu o deus cifrão como meta a atingir e se esqueceu facilmente a regra do nosso tempo em que atingir os fins era muito importante, mas, com a natural condição de ter sempre em conta os meios de lá chegar. Agora, na maioria dos casos, nesta selva concorrencial em que andamos inseridos, tudo faz crer que ninguém olha aos meios, mas apenas aos fins. A todos esses que assim procedem, aconselho-lhes vivamente que olhem para ti e para a tua vida profissional e cívica e que depois de o fazerem reparem no engano em que vivem. E aos que isso não sentirem e continuarem a pensar que estão certos, não percamos mais tempo com eles porque são irrecuperáveis.
Digo-te uma coisa, Mário. Tenho muitas saudades daqueles anos magníficos em que trabalhávamos nos Hospitais Civis de Lisboa, daquele banco semanal de 24 horas, sem horas extraordinárias, em que os nossos quartos eram mais vestiário do que local de encosto, da mesa grande da sala de jantar, com o chefe de equipa sentado à cabeceira e a malta sentada por uma ordem natural e nunca imposta, em que cada um sabia bem qual era o seu lugar. Em que trabalhávamos com prazer e com entrega, os doentes eram pessoas e não só doenças e a camaradagem que nos ligava a todos era real e evidente. E nada disto impedia que nos digladiássemos com todas as nossas capacidades naqueles magníficos concursos de progressão na carreira, sem atropelos, nem sacanices, mas apenas com a maior ou menor capacidade de cada um e também com o grau de sorte que nos calhasse naqueles dias. Nem todos entravam para as vagas, mas isso não nos separava porque todos tínhamos a noção do nosso valor individual e relativo. Em vez de inveja, sentíamos respeito pelos melhores. Tenho saudades, como tu deves ter, daquela sensação única da conquista do nosso lugar, em provas públicas e várias, com julgamentos honestos e isentos, arredados de cunhas e influências. Era bom saber que ocupávamos o nosso lugar por direito e não porque o sistema nele nos colocava, sem esforço e sem mérito. É evidente que nem todos éramos santos ou heróis e alguns havia que procuravam caminhos mais macios. Mas todos sabiam quem eles eram e recebiam o tratamento merecido. E havia ainda outros, como tu, Mário, que respiravam coerência, honestidade, lealdade, competência. Já nesse tempo eras figura de romance e assim continuaste toda a vida, tanto quanto me é dado saber. Toda a tua vida foste um bom exemplo de que os homens se distinguem pelo seu carácter, pela sua postura e pela sua conduta. Não será a reforma que te irá mudar, tenho a certeza. Um abraço para ti, Mário.
Carlos Vieira Reis
Chefe de Serviço de Cirurgia
Presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos